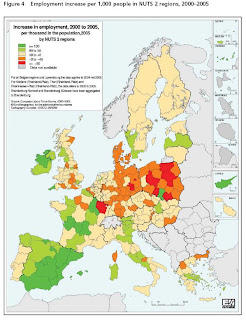Não há fumo sem Flexisegurança
A palavra surgiu no nosso léxico público há relativamente pouco tempo mas foi capaz, por si só, de fazer correr rios de discussão entre políticos, opinion-makers e parceiros sociais.
Tudo porque nos estudos em curso para revisão do Código do Trabalho, que devem estar concluídos até Julho do corrente ano, foi introduzida uma reflexão sobre a adopção em Portugal deste modelo de relações laborais que tão bons resultados tem ostentado em alguns países escandinavos.
Apesar de ser normalmente associado à realidade dinamarquesa, a verdade é que este modelo foi introduzido com quase uma década de avanço na Holanda, na sequência do acordo de concertação social de Wassenar, que data de 1982.
Na prática, como decorre da fusão entre as duas palavras que lhe dão origem, a Flexisegurança é um modelo de relações laborais que privilegia a Flexibilidade e a Segurança: Flexibilidade para os patrões e Segurança para os trabalhadores, poder-se-ia acrescentar de forma simplista.
Talvez por isso, nas primeiras opiniões emitidas sobre esta possibilidade, tenha havido uma resposta mais favorável das associações empresariais e claras objecções por parte dos sindicatos.
Neste particular, porém, não teria que ser assim, sendo que tais vincadas posições de princípio decorrem mais da cultura social e da mentalidade que existe no nosso País e que se pode revelar um dos principais obstáculos à implementação deste modelo na realidade nacional.
Olhando para a Flexisegurança de uma forma mais rigorosa, o seu principal objectivo é agilizar os processos de contratação e despedimento de trabalhadores, assim dando resposta à necessidades conjunturais do mercado de trabalho e contribuindo para o reforço da competitividade da economia, ao mesmo tempo que se reforçam os mecanismos de protecção social dos trabalhadores.
Na prática, um trabalhador não teria tanto receio de enfrentar um mercado de trabalho extremamente flexível nas relações contratuais uma vez que saberia que, em caso de desemprego pontual, receberia valores equivalentes ao que auferia na vigência do seu contrato e por um período de tempo suficientemente longo para potenciar a sua reintegração no mercado de trabalho.
A acrescer às condições financeiras, tal trabalhador passaria a ser imediatamente acompanhado com vista a assegurar a sua reinserção no meio laboral, ao mesmo tempo que lhe eram facultados os utensílios necessários ao reforço das suas qualificações pessoais (através de formação contínua).
De uma forma geral., os países em que este modelo foi implementado registaram uma evolução notável das taxas de desemprego globais, do desemprego de longa duração e da capacidade de inserção de jovens, idosos, mulheres e imigrantes no mercado de trabalho.
Na vizinha Espanha, por exemplo, a lei Para a Melhoria e o Crescimento do Emprego – que resultou de um Acordo Laboral concluído após catorze meses de negociação com os parceiros sociais – pretende aumentar a estabilidade laboral proporcionando, paralelamente, um incremento da transparência na contratação e um reforço dos poderes de fiscalização da Inspecção de Trabalho.
Com os novos incentivos à contratação por tempo indeterminado então definidos, a Espanha conseguiu diminuir a precariedade do emprego, ao mesmo tempo que promoveu o seu crescimento, com uma redução clara da taxa de desemprego para valores próximos dos de 1979.
Neste caso, é visível que esta reforma do mercado de trabalho espanhol se traduziu num tipo de intervenção política que, alicerçada no diálogo entre os parceiros sociais, consegue conciliar os desígnios de crescimento económico com o bem-estar social.
Neste mesmo espírito, a discussão em curso na União Europeia sobre a implementação generalizada do modelo de Flexisegurança, enquanto contributo para a concretização dos objectivos a Agenda de Lisboa e da Estratégia Europeia para o Emprego, consagra essa mesma orientação: mais do que olhar para os modelos existentes como um roteiro vinculativo a seguir, cabe a cada Estado-membro assegurar a adaptação do modelo à sua realidade nacional.
Assim se percebe, pois, que da aturada discussão em curso sobre este modelo, que já recolheu o parecer favorável do Presidente da República aquando do seu doutoramento honoris causa na recente deslocação à Índia, terão que resultar iniciativas legislativas concretas lá para o meio do ano.
Até porque, como salientava o Ministro Vieira da Silva num seminário sobre a Flexisegurança promovido pelo Ministério, “hoje - sabemo-lo todos! – nem a desregulação pura e simples, nem o imobilismo motivado pelo risco da perda dos chamados «direitos adquiridos», constituem bons portos de partida para os caminhos que temos de percorrer em direcção ao futuro. E não o são porque, como todos também sabemos, nem uma nem outra passaram ou passam nessa prova suprema, que é a da adequação à realidade”.
Tudo porque nos estudos em curso para revisão do Código do Trabalho, que devem estar concluídos até Julho do corrente ano, foi introduzida uma reflexão sobre a adopção em Portugal deste modelo de relações laborais que tão bons resultados tem ostentado em alguns países escandinavos.
Apesar de ser normalmente associado à realidade dinamarquesa, a verdade é que este modelo foi introduzido com quase uma década de avanço na Holanda, na sequência do acordo de concertação social de Wassenar, que data de 1982.
Na prática, como decorre da fusão entre as duas palavras que lhe dão origem, a Flexisegurança é um modelo de relações laborais que privilegia a Flexibilidade e a Segurança: Flexibilidade para os patrões e Segurança para os trabalhadores, poder-se-ia acrescentar de forma simplista.
Talvez por isso, nas primeiras opiniões emitidas sobre esta possibilidade, tenha havido uma resposta mais favorável das associações empresariais e claras objecções por parte dos sindicatos.
Neste particular, porém, não teria que ser assim, sendo que tais vincadas posições de princípio decorrem mais da cultura social e da mentalidade que existe no nosso País e que se pode revelar um dos principais obstáculos à implementação deste modelo na realidade nacional.
Olhando para a Flexisegurança de uma forma mais rigorosa, o seu principal objectivo é agilizar os processos de contratação e despedimento de trabalhadores, assim dando resposta à necessidades conjunturais do mercado de trabalho e contribuindo para o reforço da competitividade da economia, ao mesmo tempo que se reforçam os mecanismos de protecção social dos trabalhadores.
Na prática, um trabalhador não teria tanto receio de enfrentar um mercado de trabalho extremamente flexível nas relações contratuais uma vez que saberia que, em caso de desemprego pontual, receberia valores equivalentes ao que auferia na vigência do seu contrato e por um período de tempo suficientemente longo para potenciar a sua reintegração no mercado de trabalho.
A acrescer às condições financeiras, tal trabalhador passaria a ser imediatamente acompanhado com vista a assegurar a sua reinserção no meio laboral, ao mesmo tempo que lhe eram facultados os utensílios necessários ao reforço das suas qualificações pessoais (através de formação contínua).
De uma forma geral., os países em que este modelo foi implementado registaram uma evolução notável das taxas de desemprego globais, do desemprego de longa duração e da capacidade de inserção de jovens, idosos, mulheres e imigrantes no mercado de trabalho.
Na vizinha Espanha, por exemplo, a lei Para a Melhoria e o Crescimento do Emprego – que resultou de um Acordo Laboral concluído após catorze meses de negociação com os parceiros sociais – pretende aumentar a estabilidade laboral proporcionando, paralelamente, um incremento da transparência na contratação e um reforço dos poderes de fiscalização da Inspecção de Trabalho.
Com os novos incentivos à contratação por tempo indeterminado então definidos, a Espanha conseguiu diminuir a precariedade do emprego, ao mesmo tempo que promoveu o seu crescimento, com uma redução clara da taxa de desemprego para valores próximos dos de 1979.
Neste caso, é visível que esta reforma do mercado de trabalho espanhol se traduziu num tipo de intervenção política que, alicerçada no diálogo entre os parceiros sociais, consegue conciliar os desígnios de crescimento económico com o bem-estar social.
Neste mesmo espírito, a discussão em curso na União Europeia sobre a implementação generalizada do modelo de Flexisegurança, enquanto contributo para a concretização dos objectivos a Agenda de Lisboa e da Estratégia Europeia para o Emprego, consagra essa mesma orientação: mais do que olhar para os modelos existentes como um roteiro vinculativo a seguir, cabe a cada Estado-membro assegurar a adaptação do modelo à sua realidade nacional.
Assim se percebe, pois, que da aturada discussão em curso sobre este modelo, que já recolheu o parecer favorável do Presidente da República aquando do seu doutoramento honoris causa na recente deslocação à Índia, terão que resultar iniciativas legislativas concretas lá para o meio do ano.
Até porque, como salientava o Ministro Vieira da Silva num seminário sobre a Flexisegurança promovido pelo Ministério, “hoje - sabemo-lo todos! – nem a desregulação pura e simples, nem o imobilismo motivado pelo risco da perda dos chamados «direitos adquiridos», constituem bons portos de partida para os caminhos que temos de percorrer em direcção ao futuro. E não o são porque, como todos também sabemos, nem uma nem outra passaram ou passam nessa prova suprema, que é a da adequação à realidade”.